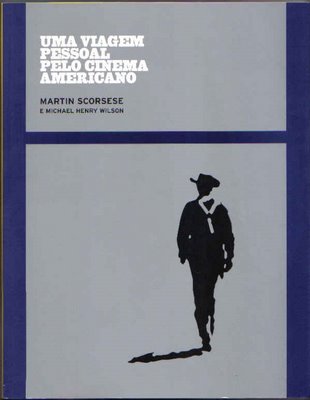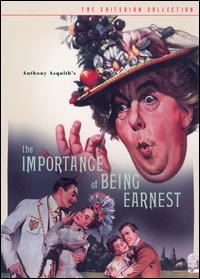Acredito que muitos também ignorarão este Beethoven. Injustamente. Da mesma forma que no irregular Eclipse de uma Paixão (95), Agniezska Holland volta-se neste filme para a temática do artista sofredor. E acerta um pouco mais. Unindo-se pela terceira vez a Ed Harris, que compõe um Beethoven um tanto romântico demais para os padrões da época (como os compositores scapigliati ou “descabelados” italianos de geração posterior), e apesar da história fictícia, o Beethoven de Holland parece trazer muito do Beethoven verdadeiro, que, solitário e já surdo, escreve as obras na imundície de seu apartamento, em meio a ratos, baratas e muita casca de ovo, e não numa corte opulenta e luxuosa como o Mozart do fantasioso Amadeus (84). Nem tem delírios de arrebatamento kitsch como o Beethoven de Minha Amada Imortal (94). Prefere, para compor, ouvir o “silêncio”. Aqui, pouco antes da estréia da majestosa Nona Sinfonia, seu editor envia-lhe uma copista de ouvidos atentos, Anna Holtz (Dianne Kruger), para ajudar na transcrição da obra para os respectivos naipes da orquestra. Uma tarefa nada prosaica para ela, que terá que lidar com o gênio difícil do compositor, capaz de elogiá-la e humilhá-la com a mesma intensidade, num ambiente onde, para complicar, as musicistas são tipos raros. Mas ela ganhará o respeito e a confiança dele, a ponto de ajudá-lo a conduzir a peça no teatro, em um momento altamente fantasioso, mas eficaz para a trama.
O mais interessante de tudo é ver nascer a Nona Sinfonia, com seus famosos motivos brotando um a um até a estréia da obra para a corte de Viena em 1824 e a entrada triunfal do coro no último movimento. Tudo mostrado em cortes rápidos, seguindo o ritmo da música, mas por meio de uma edição que não tumultua o que está sendo visto. Gran finale. Depois, ganha alguns minutos a mais, perde um pouco o compasso e vira um melodrama típico, especialmente quando se concentra em Anna. Ainda assim, questões presentes em filmes anteriores de Holland, como a fé e a gnose de um indivíduo que se acredita ungido por Deus, permeiam o filme, que felizmente não é solene ou carregado, graças, sobretudo, à jocosidade com que Harris empresta ao papel. E, por mais mundano que Beethoven pareça, ele é dotado de sincera devoção que até acreditamos que Deus fale através dele ou de suas músicas, como na cena em que compõe sua derradeira obra. Não à toa, cruzes, freiras e até um padre são vistos várias vezes ao longo do filme. E Beethoven, católico remisso, chega até a ser banhado/batizado em momento-chave da narrativa, em sua tão esperada redenção. Chato, dirão alguns. Eu não acho. Além do mais, é sempre emocionante ouvir (mais uma vez) a Nona de Beethoven e também outras composições dele.